
Imagine que você nunca viu seu próprio rosto. Nem em espelho, nem em fotografia, nem mesmo refletido na superfície de um lago. Você sabe que existe, sente sua presença, mas jamais contemplou sua própria imagem. Foi exatamente essa a condição da humanidade até 12 de maio de 1959, um dia aparentemente comum que, sem muito alarde, nos concedeu algo extraordinário: a possibilidade de ver nosso próprio planeta em movimento, volitando no vazio cósmico como uma bolinha azul girando ao sabor do Infinito e Além.
Naquela terça-feira de maio, em Cabo Canaveral, Flórida, técnicos norte-americanos preparavam o lançamento do míssil Thor número 187. Estamos falando de plena Guerra Fria, quando cada lançamento era uma declaração de poderio tecnológico disfarçada de “experimento científico”, com a grande ironia que se tornou um experimento científico de verdade, mas não de forma previamente idealizada.
O Thor em si era uma criatura imponente: um míssil balístico de alcance intermediário desenvolvido pela Douglas Aircraft Company, com seus monstruosos (para a época) 20 metros de altura e 49 toneladas ao lançamento, movido a oxigênio líquido (LOx) e querosene RP-1, a combinação favorita da Era Espacial em seu início, colocando o Thor e, mais tarde, do lendário Saturno V, para voar.

O querosene RP-1 (Refined Petroleum-1) é basicamente querosene de aviação marombado, uma versão ultra-refinada e purificada, desenvolvida especificamente para foguetes. A diferença está nos detalhes: o RP-1 tinha menos impurezas, composição química mais consistente e maior densidade que o querosene convencional, o que significa mais energia por volume e menos depósitos de carbono que poderiam entupir os motores durante a queima. Era a estrela da Química de Combustíveis porque combinava alta performance com relativa segurança (comparado a combustíveis hipergólicos letais) e custo razoável, provando que químicos (com eles a oração e a paz), com tempo e dinheiro a rodo (praticamente, só o segundo, porque o primeiro praticamente era escasso), são capazes de refinar e purificar o óbvio dos produtos até levá-los à perfeição.
No tocante ao Thor, originalmente foi concebido como arma nuclear capaz de atingir alvos soviéticos a partir de bases europeias. O Thor logo ganhou uma segunda vida como cavalo de batalha da Exploração Espacial, servindo de primeiro estágio para incontáveis lançamentos científicos. Os mísseis balísticos da época tinham funções militares óbvias, mas também serviam como cobaias para aquela obsessão nascida com Kennedy em mandar o Homem a Lua só para dar uma lição em Ivã.
A versão 187 do Thor não era diferente: seu trabalho oficial era testar tecnologias de altitude elevada, separação de cargas e reentrada atmosférica, o tipo de vocabulário técnico que faz engenheiros salivarem, leigos dormirem e técnicos soltarem uma torrente de palavrões correndo contra o tempo, já que quem liberou a grana não era paciente.
O míssil Thor que decolou em 12 de maio de 1959 carregava algo especial no nariz. A General Electric, em parceria com a ACR Electronics, havia desenvolvido uma cápsula de dados equipada com uma câmera de 16mm. O propósito era cinematográfico, mas não no sentido hollywoodiano: queriam filmar o momento exato em que o veículo se separava da carga útil, documentando o desempenho do míssil durante o voo. Era ciência pura e aplicada, o tipo de registro que poderia salvar milhões de dólares em futuros projetos, ou evitar desastres espetaculares em missões tripuladas.
Porém, em algum momento do planejamento, alguém – provavelmente um engenheiro com alma de poeta – teve uma epifania: se a câmera estava ali no alto, apontada para o infinito, por que não aproveitar para gravar também a Terra lá embaixo? Transformar um teste técnico em registro histórico. Foi uma daquelas decisões geniais que parecem óbvias só depois que alguém as toma.
A câmera operava em câmera lenta, lenta até mesmo para os padrões de câmera lenta: apenas 5 quadros por segundo, produzindo cerca de 10,7 metros de película, o equivalente a um clipe curtíssimo pelos padrões atuais, mas que valia seu peso em ouro (ou plutônio, já que estamos falando da era nuclear). Era tão lento que Zack Snyder teria convulsões orgásticas de prazer.
O voo durou cerca de 15 minutos, tempo suficiente para o Thor alcançar uma altitude de aproximadamente 560 km quilômetros acima da superfície, e percorrer mais de 2.400 km até cair no Oceano Atlântico, onde a cápsula seria ejetada e recuperada.
E aqui está o detalhe crucial: a recuperação funcionou. Em missões espaciais da época, isso não era garantia. Muitas cápsulas viravam peixe artificial no fundo do oceano, levando consigo dados preciosos e sonhos de engenheiros, mas fazendo a felicidade de muitos peixes que ali encontraram uma nova casinha. Mas não desta vez. A cápsula do Thor 187 foi resgatada intacta, e o filme dentro dela estava perfeitamente preservado.
Quando os cientistas da General Electric revelaram o material, depararam-se com algo que nenhum ser humano havia testemunhado antes: imagens em movimento da Terra vista do Espaço. Não fotografias estáticas como aquelas que um míssil V-2 capturou em 1946: simples instantâneos que já eram impressionantes por si só. Não, isso poderia ser definido como:

Pura poesia de movimento e continuidade. A Terra não apenas posando para a câmera, mas existindo diante dela, com sua curvatura evidente, sua atmosfera delicada como um véu azulado, seu contorno dançando contra o negro absoluto do Cosmos.
Era o primeiro registro em vídeo da Terra vista do Espaço. O planeta se tornara, pela primeira vez, protagonista de seu próprio documentário.
Esse avanço técnico tinha implicações práticas imediatas. A missão representou o primeiro sucesso completo de recuperação de dados espaciais pelos Estados Unidos, algo que havia sido testado em abril de 1959 em um lançamento similar. Mais importante: abriu caminho para programas como o Corona, os satélites de reconhecimento que usariam tecnologias semelhantes de câmeras e cápsulas ejetáveis para fotografar territórios soviéticos durante décadas. O que começou como ciência básica virou ferramenta de espionagem sofisticada; porque, afinal, Guerra Fria.
Mas além da geopolítica e dos megaprojetos militares, aquele filme curto e granulado tinha um poder quase filosófico. Pela primeira vez, a humanidade podia ver a si mesma não como abstração cartográfica ou conceito poético, mas como objeto físico: pequeno, frágil, isolado. Ainda levaria anos até que as imagens realmente icônicas, como o “Earthrise” da Apollo 8, se tornassem símbolos globais de consciência ambiental. Mas foi naquele 12 de maio de 1959 que plantamos a semente dessa perspectiva.
Hoje, o vídeo pode ser encontrado em arquivos históricos, com seu original preservado no Museu Nacional do Ar e do Espaço do Smithsonian, onde a câmera original repousa como relíquia tecnológica de desbravadores do passado.
Pelos padrões contemporâneos, é material tosco: baixa resolução, tremido, curto. Mas tem algo de hipnótico naquela imagem primitiva, um lembrete de que houve um tempo em que olhar para nosso próprio planeta do lado de fora era impossível. E então, de repente, não era mais.
Foi o dia em que a Terra ganhou espelho. E nós, finalmente, pudemos nos ver.
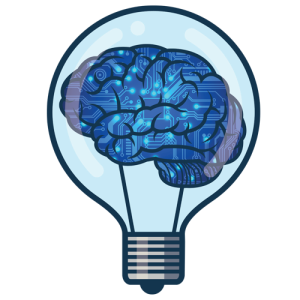
2 comentários em “O dia em que a Terra olhou para si mesma pela primeira vez”