
Imagine a cena: é agosto de 1904, você é um fazendeiro norueguês cavoucando o próprio quintal porque… sei lá. Parece que isso é comum por lá. Cartas para a Redação. Bem, o cara lá fuçando o quintal bate a enxada em algo que claramente não era raiz teimosa, nem pedra, nem papel ou tesoura. Era madeira! Madeira muito, muito antiga. Knut Rom, nosso protagonista involuntário desta história, provavelmente teve o mesmo sentimento de quem encontra uma pasta perdida no computador e descobre que ela contém todos os memes raros dos últimos dez anos. Só que, no caso dele, a pasta continha mil anos de história viking condensados em 22 metros de carvalho esculpido que faria qualquer cenógrafo de Game of Thrones ter um ataque de inveja.
Rom havia acabado de descobrir o navio de Oseberg.
A descoberta foi uma das maiores pegadinhas que a Arqueologia já pregou na humanidade: um tesouro enterrado que não era exatamente tesouro no sentido pirático da coisa, mas algo infinitamente mais valioso, uma janela para uma civilização que a história popular insiste em reduzir a brutamontes de capacete com chifres (spoiler: eles não usavam chifres nos capacetes).
O que Rom encontrou naquela manhã gélida de Vestfold não era apenas um navio. Era o equivalente medieval de uma limusine funerária cinco estrelas, completa com spa, shopping center e até mesmo uma seção de artigos de luxo que faria influenceiras chorarem de inveja. Duas mulheres vikings de status elevado haviam sido enterradas ali no início do século IX, cercadas por um enxoval que incluía desde trenós elaboradamente decorados até têxteis que sugeriam uma rede comercial mais complexa que a logística da Amazon.
Mas vamos por partes, porque esta história merece ser contada direito, e não como aqueles resumos de três linhas que aparecem em livros didáticos e fazem qualquer assunto interessante parecer tão empolgante quanto assistir tinta secar.
O Professor Gabriel Gustafson, que assumiu as escavações, era o tipo de acadêmico que a universidade moderna perdeu: meticuloso sem ser chato, rigoroso sem ser robótico, e com aquela rara capacidade de transformar metodologia arqueológica em algo próximo da arte. Nascido em 1853, Gustafson era o que poderíamos chamar hoje de “influencer acadêmico”, só que, em vez de promover suplementos vitamínicos, ele estava revolucionando a forma como escavamos o passado. Suas técnicas de documentação fotográfica e registro sistemático eram tão inovadoras para a época que praticamente criaram o manual do “como não estragar uma descoberta arqueológica 101”.
O navio em si é uma obra-prima da engenharia naval que faz você questionar tudo o que pensava saber sobre “tecnologia primitiva”. Com 21,58 metros de comprimento e 5,10 metros de largura, construído com a técnica de clinker – que é basicamente o LEGO da construção naval medieval, só que infinitamente mais sofisticado – o navio demonstra que os vikings tinham entendido algumas coisas sobre design naval que o resto da Europa ainda estava tentando descobrir.
A escolha do carvalho para a construção não foi casual, claro. Na mitologia nórdica, o carvalho estava associado a Thor, o que significa que nossos construtores navais vikings tinham aquela mentalidade de “se vamos fazer, vamos fazer direito e com a bênção do deus dos martelos”. A proa e a popa, elevadas e ornamentadas com serpentes entrelaçadas, são exemplos do estilo artístico Oseberg, um nome chique para “decoração viking que faz qualquer tatuador moderno se sentir inadequado”.
O navio comportava 30 remadores, tinha mastro para vela quadrada e podia navegar tanto em águas costeiras quanto em mar aberto. Era, essencialmente, o SUV da Era Viking: versátil, robusto e perfeito para aquelas viagens de fim de semana para saquear mosteiros ingleses ou estabelecer colônias na Islândia, com o diferencial que tinha um bagageiro show de bola, ao invés de umas tosqueiras caras que tem por aí. Estou olhando pra você, Jeep!
A versatilidade navegacional dos vikings era tão impressionante que eles conseguiram chegar à América do Norte 500 anos antes de Colombo – mas isso é outra história, e uma que envolve bem menos glamour do que Hollywood gostaria que você acreditasse.
Agora, vamos falar das verdadeiras estrelas desta história: as duas mulheres enterradas no navio. E aqui a coisa fica interessante de uma forma que faria qualquer roteirista de novela das oito babando de inveja. A análise osteológica – conduzida inicialmente pelo anatomista Kristian Emil Schreiner, que tinha o trabalho aparentemente macabro, mas cientificamente fascinante, de examinar ossos de mil anos – revelou que uma das mulheres tinha entre 70 e 80 anos quando morreu. Para o século IX, isso era praticamente ter chegado aos 120 anos nos dias de hoje. A segunda tinha cerca de 50 anos, que também era considerada uma idade respeitável para a época.
A mulher mais velha não era nativa da região, segundo análises de isótopos de estrôncio em seus dentes – uma técnica que basicamente funciona como um GPS retroativo, revelando onde uma pessoa cresceu com base na composição química dos ossos. Ela possivelmente veio do norte da Noruega ou da Dinamarca, o que sugere conexões políticas ou matrimoniais de longa distância. Em outras palavras, ela era o tipo de pessoa que tinha networking internacional numa época em que viajar para o país vizinho era uma expedição digna de documentário do Discovery Channel.
E aqui chegamos a uma das partes mais fascinantes e, francamente, irritantes desta história: o papel das mulheres na sociedade viking. Irritante porque nossa percepção popular dos vikings é tão machista quanto um filme de ação dos anos 80, quando a realidade era infinitamente mais complexa e interessante. Mulheres vikings podiam ser proprietárias, comerciantes, profetisas (völva) e até mesmo líderes militares. O título de jarl – que é basicamente “nobre” em nórdico antigo – não era exclusivamente masculino. Aud Ketilsdatter (Aud, a Profunda), por exemplo, controlou vastos territórios na Islândia e foi uma das figuras mais poderosas da colonização islandesa, tendo vivido entre os anos 834 e 900. Mas claro, isso não combina muito com a narrativa hollywoodiana de vikings como brutamontes unidimensionais.
O inventário funerário de Oseberg é onde a coisa realmente fica interessante, porque é basicamente um catálogo do Mercado Livre da Era Viking. Temos quatro trenós elaboradamente decorados, incluindo o famoso “Trenó Acadêmico” – um nome que os arqueólogos deram porque aparentemente tinham senso de humor – com entalhes de cabeças de animais que parecem ter saído de um pesadelo febril de Tim Burton. Um carro de quatro rodas, único em contextos funerários vikings, sugere influências continentais e possível uso cerimonial, porque nada diz “funeral de elite” como chegar ao além–vida de carruagem.
Os têxteis preservados são um capítulo à parte. Lãs tingidas em azul, vermelho e amarelo, bordados com fios de ouro – tudo isso numa época em que conseguir tinta azul era tão complicado quanto hoje conseguir ingressos para show do Beyoncé. A presença de um tear vertical desmontado é particularmente reveladora, porque sublinha que produção têxtil não era apenas trabalho doméstico, mas uma indústria sofisticada que requeria conhecimento técnico considerável.
Entre os objetos mais misteriosos está um “bastão de comando” que possivelmente era usado em rituais xamânicos. É o tipo de artefato que faz arqueólogos ficarem acordados à noite se perguntando exatamente que tipo de cerimônias aconteciam ali. Pequenas figuras de madeira que podem representar deidades ou espíritos protetores completam o quadro de uma religiosidade complexa que Hollywood também insiste em simplificar para “Thor batendo martelo em coisas”.
Caldeirões de ferro, baldes de madeira com ornamentos metálicos, tábuas de cortar – tudo revela uma vida doméstica onde funcionalidade e estética caminhavam juntas, numa época em que a maioria das pessoas considerava “decoração” qualquer coisa que não fosse feita de barro. É como se essas mulheres vikings tivessem vivido numa versão medieval da revista Casa e Jardim, só que com muito mais espadas e incursões marítimas.
O timing da construção e uso do navio é crucial para entender seu contexto. Estamos falando do período contemporâneo ao rei Gudfred da Dinamarca e aos primeiros reis da dinastia Yngling na Noruega. Era o momento das primeiras incursões documentadas às Ilhas Britânicas – Lindisfarne, em 793, foi basicamente o “Hello World” viking para o resto da Europa. A região de Vestfold, onde Oseberg foi descoberto, era um centro de poder que fazia Wall Street parecer uma feira de bairro em termos de movimentação comercial.
Kaupang, a poucos quilômetros dali, era uma das mais importantes cidades comerciais da Escandinávia, conectando rotas que iam da Groenlândia a Constantinopla. Imaginem o Google Maps da época, só que em vez de “evitar pedágios”, as opções eram “evitar piratas” e “cuidado com dragões marinhos”. A proximidade geográfica com esse centro comercial reforça que as mulheres de Oseberg não eram apenas ricas – elas eram conectadas, influentes, e provavelmente sabiam mais sobre economia internacional do que muito executivo moderno.
O Museu de Navios Vikings de Oslo, onde Oseberg reside desde 1926, vive um dilema que seria cômico se não fosse trágico: como salvar um tesouro de mil anos que foi “salvo” de uma forma que está lentamente o destruindo? É como aqueles filmes onde o protagonista viaja no tempo para resolver um problema e acaba criando três problemas maiores. Debates acadêmicos atuais sobre re-tratamento versus preservação do status quo soam como reuniões de condomínio, só que com muito mais PhD’s envolvidos.
O impacto cultural de Oseberg transcendeu completamente as expectativas acadêmicas. O navio se tornou um ícone nacional norueguês, inspirou movimentos artísticos como o “Estilo Dragão” no design escandinavo e influenciou representações vikings em tudo, desde literatura até aquela série que todo mundo assistiu e fingiu entender as nuances políticas medievais. Academicamente, estabeleceu paradigmas para interpretação de enterros de elite vikings e provou que abordagens interdisciplinares funcionam melhor que a velha escola do “cada um no seu quadrado”.
Estudos recentes usando espectrometria de massa e análise de DNA antigo continuam revelando segredos sobre as ocupantes do navio, porque aparentemente mil anos não são suficientes para esgotar as surpresas que duas mulheres vikings podem guardar. É como aqueles seriados que continuam descobrindo plot twists mesmo depois de 15 temporadas, só que aqui os plot twists envolvem química isotópica e genealogia molecular.
No final das contas, o navio de Oseberg fez algo que poucos artefatos conseguem: transformou completamente nossa percepção de uma civilização inteira. Mostrou que os vikings eram muito mais complexos, sofisticados e, francamente, interessantes do que qualquer estereótipo hollywoodiano jamais sugeriu. Provou que mulheres podiam exercer poder real numa sociedade que supostamente era dominada por homens barbudos com machados. Demonstrou que a Era Viking foi um período de rica expressão cultural, redes comerciais globais e sociedades hierárquicas onde a meritocracia podia coexistir com a aristocracia.
Mais de um século depois de sua descoberta, quando Knut Rom tropeçou naqueles fragmentos de madeira escura em sua fazenda, o navio de Oseberg continua sendo o melhor argumento contra simplificações históricas e a favor da complexidade humana. É uma lembrança de que o passado é sempre mais interessante, mais surpreendente e mais relevante do que imaginamos – especialmente quando paramos de tentar encaixá-lo em narrativas convenientes e começamos a prestar atenção no que ele realmente tem a dizer.
E se isso não for suficiente para fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre vikings, bem, pelo menos agora você tem uma história interessante para contar no próximo happy hour.
Fonte: Tem um site só sobre o navio
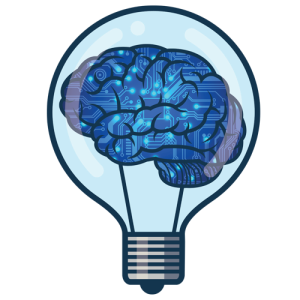
2 comentários em “Quando um fazendeiro Norueguês tropeçou na Netflix da Era Viking”