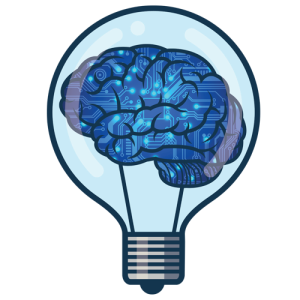Então você, meu amigo, minha amiga, bate as botas no Egito romano, e seus parentes te enfaixam em linho com esmero, colocam uma máscara dourada no seu rosto para garantir que você consiga ver e falar no além, e te enterram com toda a pompa possível.
Agora imagine que, 2000 anos depois, alguém saqueia sua tumba, vende pedaços de você para antiquários ou mesmo para virar aditivo e tônico (sim, teve isso) e o que sobra da sua máscara funerária vai parar espalhado entre o deserto egípcio e um museu em Copenhague. Isso não é roteiro de filme de terror, mas a biografia arqueológica de uma quantidade assustadora de artefatos que habitam coleções ao redor do mundo sem que ninguém saiba de onde vieram. A boa notícia é que a ciência encontrou uma forma de reconectar esses fragmentos às suas histórias.
O Egito greco-romano, entre 305 A.E.C. e 395 E.C., era um lugar fascinantemente contraditório: reis ptolomaicos do Egito que adoravam deuses egípcios, romanos que se mumificavam com entusiasmo, e um comércio funerário florescente para uma clientela que levava a imortalidade muito a sério. Entre os itens mais populares estavam as máscaras de cartonnage, uma espécie de papelão sofisticado feito de camadas de linho coladas com cola animal, moldadas sobre formas em gesso, depois cobertas com gesso branco e pintadas ou douradas. Colocadas sobre a cabeça do morto, serviam a um propósito místico preciso: restaurar a capacidade do falecido de ver e falar no além. Nada de improvisar a eternidade.
O dr. Carlo Rindi Nuzzolo é pesquisador em Arqueologia Egípcia da Monash University e ex-curador-chefe de um projeto de patrimônio cultural sediado no British Museum, onde se especializou em monitorar o mercado de arte e combater o tráfico de antiguidades. Atualmente vinculado ao Cotsen Institute of Archaeology da UCLA e à Monash University, Nuzzolo coordenou o projeto CRAFT (Cartonnage Regionalism in the Ateliers of the Fayum Territory), financiado pelo programa europeu Horizon 2020, que escaneou mais de 500 artefatos em 60 museus ao redor do mundo com um objetivo aparentemente simples: entender como as máscaras funerárias egípcias eram fabricadas em diferentes regiões. O que a pesquisa acabou revelando foi algo ainda mais dramático.
Os artesãos de Kellis, antiga cidade no Oásis de Dakhleh, no deserto ocidental egípcio, trabalhavam com moldes reutilizáveis e produziam em quantidade suficiente para atender os mortos de aldeias inteiras. O problema é que o reuso constante das tumbas ao longo dos séculos, somado a saques recentes, transformou o sítio arqueológico numa bagunça tridimensional: braços sem corpos, rostos sem cabeças, costas sem frontes. O trabalho do arqueólogo virou o de um montador de quebra-cabeças sem a foto da caixa.
A solução veio de um scanner 3D de luz estruturada, o Artec Eva, com precisão de 0,1 milímetro. O aparelho captura a geometria de objetos por meio de luz projetada em padrões conhecidos, medindo como a superfície deforma essa luz para construir um modelo tridimensional de altíssima fidelidade. É a mesma tecnologia usada em controle de qualidade industrial para verificar se peças de aeronaves saíram do molde com as medidas certas. Aplicada à arqueologia, ela permite comparar fragmentos dispersos com um rigor que o olho humano simplesmente não alcança.
O caso mais impressionante envolve dois objetos separados por quase cinco mil quilômetros. De um lado, fragmentos de máscara funerária escavados nas tumbas de Kellis, pedaços isolados sem contexto claro. Do outro, uma máscara intacta na Ny Carlsberg Glyptotek, em Copenhague, catalogada com a elegante descrição de “incomum” e sem nenhuma informação de procedência. Visualmente, as peças pareciam semelhantes: mulher com cabelos cacheados presos por coroa rosada, braços cruzados, joias douradas. Mas semelhança visual é o tipo de argumento que qualquer advogado de museu destruiria em dez minutos.
Usando múltiplos softwares (Artec Studio, Control X, MeshLab e CloudCompare), Rindi Nuzzolo gerou mapas de desvio de superfície: visualizações coloridas que mostram onde dois modelos 3D coincidem e onde divergem. O resultado foi de deixar qualquer cético sem argumento: 77,72% da superfície dos fragmentos alinhava dentro de ±0,27 milímetros com a máscara de Copenhague. As maiores divergências ocorreram nas bordas dos fragmentos, exatamente onde danos e deformação pós-deposicional seriam esperados. Objetos com essa correspondência só podem ter saído do mesmo molde.
A conclusão vai além de um exercício técnico elegante. Ela revela que um grupo específico de artesãos, que os pesquisadores batizaram de Craftsmen Group A, abastecia não apenas Kellis mas possivelmente uma rede regional mais ampla no deserto ocidental. E que a máscara de Copenhague, longe de ser “incomum”, é um produto típico dessa oficina, provavelmente vendida a algum colecionador no século XIX ou início do XX, quando a arqueologia egípcia ainda funcionava na base do “quem chegar primeiro leva.”
Esse ponto merece atenção porque o problema dos “objetos órfãos” não é acidental. Do final do século XIX até meados do XX, museus e colecionadores absorveram volumes enormes de antiguidades egípcias priorizando a aquisição sobre a documentação. A Egypt Exploration Fund, por exemplo, distribuía objetos escavados como recompensa para quem financiasse as pesquisas, espalhando conjuntos funerários coerentes por instituições em vários países sem manter registros cruzados. Bem-intencionado como modelo de financiamento, devastador como prática de preservação de contexto.
O que Rindi Nuzzolo propõe, portanto, não é apenas uma técnica nova, mas uma mudança de paradigma: usar a geometria como prova forense para devolver às peças o contexto que lhes foi roubado. O que antes dependia do olho treinado de um especialista passa a ter números, gráficos e margens de erro verificáveis. E quando a reconstituição física é impossível, a reconstituição digital ao menos reconstrói as relações entre fragmentos e conjuntos, entre museus e escavações, entre tradições artesanais locais e o patrimônio que delas sobrou.
Esta pesquisa foi publicada na Heritage Science.