
Imaginem a seguinte cena: soldados com equipamentos militares de última geração, rádios criptografados, visores noturnos, botas de campanha resistentes ao frio… empunhando paus com pregos e escudos improvisados como se estivessem num revival de Game of Thrones. Parece roteiro de série, mas é a realidade nunca é bem roteirizada, ainda mais em recantos esquecidos por todos os deuses, como as terras ao longo das gélidas e contestadas fronteiras entre China e Índia, com duas potências nucleares, com arsenais capazes de apagar cidades do mapa, envolvidas em confrontos corpo-a-corpo que mais lembram brigas de pátio de escola, com a diferença que o pátio fica a 4 mil metros de altitude, e as pedras são maiores do que a cabeça de um infeliz.
Não, não foi uma metáfora. É literalmente isso: entre 2020 e 2021, dezenas de soldados morreram – não por mísseis ou drones, mas por fraturas, quedas em rios glaciais e hipotermia. Uma ironia geopolítica digna de estudo, e aqui estamos nós para isso. Sim, tem vídeo.
Sim, patético, mas como foi mesmo que chegamos ao ponto em que o botão vermelho nuclear convive, lado a lado, com a clava de madeira? A resposta está enterrada em camadas e mais camadas de história, começando lá atrás, quando o Império Britânico ainda brincava com lápis e cor e crayons, desenhando fronteiras com a mesma responsabilidade com que uma criança rabisca um mapa no fundo do caderno.
Para entender essa zona… de guerra, precisamos voltar ao início do século XX, quando as fronteiras da região eram decididas por senhores britânicos com mapas, bússolas e, aparentemente, muita ousadia cartográfica. No chamado “Grande Jogo” – a versão imperial de um tabuleiro de War jogado entre a Grã-Bretanha e a Rússia – o Tibete era a peça-chave, atuando como um colchão geográfico entre a Índia britânica e a China.
A coisa se complica quando o Tibete, aproveitando o colapso da Dinastia Qing em 1911, resolve se declarar independente em 1913. Pequim, naturalmente, finge que não ouviu. Em 1914, tivemos uns entreveros na Europa, mas isso fica para depois, já que nosso assunto está em outros cantos, com a famosa (ou infame) Convenção de Simla, na qual britânicos e tibetanos desenharam a Linha McMahon. Ela tem este nome porque o pepino para resolver isso caiu nas mãos do enfadado Sir Henry McMahon, secretário de Relações Exteriores da Índia britânica.

Para definir esta linha, reuniram-se à mesa os britânicos, representantes tibetanos e uma delegação chinesa para negociar fronteiras e resolver, na base da caneta e do mapa, um problema que nem milênios de história tinham conseguido definir direito. Quer dizer, da parte dos chineses o “resolver” seria “entregue tudo para nós e pronto”. Como não foi isso o que aconteceu, a China fez o que sabe melhor fazer: não negociar, porque aqueles povos daqueles cantos do Extremo-Oriente parecem ter urticária em resolver as coisas diplomaticamente, na base de ceder um pouquinho de cada lado. Eles não cedem, que cedam os outros.
Como ninguém chegava a um acordo que só beneficiaria a China, ela se levantou da mesa e foi embora antes do fim da conversa, dizendo que aquilo tudo era inválido. Mesmo assim, McMahon e os representantes tibetanos seguiram firmes e felizes, como quem resolve a divisão do bolo mesmo com um convidado ausente, e traçaram uma linha no mapa separando o Tibete da Índia britânica.
Linha foi traçada com base principalmente em critérios topográficos, como cordilheiras e divisores de água. Parecia fazer sentido no papel. O problema é que ela ignorava completamente as rotas de comércio tradicionais, os assentamentos locais, os povos nativos e qualquer noção de consentimento chinês. Foi um “acordo bilateral”, digamos… de um lado só. Os ingleses pegaram uma régua, passaram a linhazona e apontaram para o mapa dizendo “é aqui, ó”. Os tibetanos olhando sem entender nada disseram “er… ok?” e a China respondendo lá do fundo da sala “Fronteira é aqui, ó”, fazendo justamente o sinal que você está pensando.
Resultado? Para os britânicos (e depois, para a Índia, que recebia ordens de Londres), a Linha McMahon era uma fronteira válida, assinada, selada, registrada, carimbada, avaliada e rotulada. Para a China, era tão legítima quanto um rabisco no guardanapo do chá das cinco.
Essa discordância permaneceu latente por décadas, mas se tornou uma bomba-relógio quando, após a independência da Índia em 1947 e a fundação da República Popular da China em 1949, os dois vizinhos herdaram essa linha-pendente no meio das montanhas. Um traço colonial virou motivo de guerra, disputa diplomática e, como vimos, de combates com paus e pedras mais de um século depois.
Essa fronteira ficou conhecida como Linha McMahon, cortando o que hoje conhecemos como o Arunachal Pradesh, uma região que a Índia considera parte integral de seu território… e que a China chama de “Tibete do Sul”, como quem diz “esse pedaço aí também é meu”. Em resumo, a Linha McMahon é uma espécie de presente envenenado deixado pelo colonialismo: fronteiras desenhadas por quem não morava ali e nem pretendia ficar muito tempo.

Em 1947, a Índia ganha sua independência. Dois anos depois, nasce a República Popular da China. Ambos herdam o mesmo problema: uma fronteira disputada, mal definida e com uma pitada de ressentimento imperial. Então, fizeram mais uma Conferência de Simla, e a Índia, liderada por Nehru, adota a Linha McMahon como sua fronteira oficial porque… bem, já está lá, né? Para que se incomodar? Já a China de Mao Zedong (ou Tsé Tung. Escolhe aí o sobrenome que você quiser) diz, obrigado, não, obrigado, e rejeita qualquer coisa com cheiro de colonialismo. Ainda mais envolvendo perda de território.

O barril de pólvora ganha mais um fósforo em 1950, quando a China assume o controle total do Tibete, eliminando o estado-tampão entre os dois vizinhos. Agora sim, temos Índia e China dividindo uma longa fronteira montanhosa, sem consenso sobre onde ela começa ou termina.
Em 1962, os atritos viram guerra. Foi curta, foi dura e, para a Índia, foi traumática. A China avançou, bateu, ganhou e depois – num gesto que mistura estratégia com sarcasmo – recuou voluntariamente. Menos em Aksai Chin, claro, que ficou no papo chinês. O resultado foi um trauma nacional na Índia e uma confiança reforçada na China. O resto do mundo? Mas quem se importa com o arranca-rabo que está ocorrendo naquele buraco sem importância?
Mas o mais importante: a guerra cimentou desconfianças e estabeleceu um padrão de “convivência desconfortável” que dura até hoje. Em meio ao crescimento de ambos como potências nucleares (China em 1964, Índia em 1974), surgiu uma nova lógica: se não dá para confiar, pelo menos que se evite a guerra total. Não foi só os EUA e a URSS que tiveram a sua Guerra Fria, mas nem mesmo livros escolares se importam com aquele entrevero.
A partir dos anos 1980, começaram os acordos para evitar que a próxima rusga virasse guerra com Kabum Atômico. Em 1996, firmaram um tratado que proibia o uso de armas de fogo ou explosivos a até dois quilômetros da Linha de Controle Real (LAC). Sim, proibiram metralhadoras, mas não proibiram ir para as vias de fato no melhor dos mundos “só parte para rajada de macaca quem não se garante no soco.

E foi aí que o surreal virou regra. Tropas passaram a ser treinadas com artes marciais tradicionais: os indianos ressuscitaram o Kalaripayattu e o Gatka; os chineses intensificaram o Wushu. Nada de balas, tudo na base do bastão. Escudos improvisados, clavas com pontas de metal, técnicas de agarrão e defesa pessoal dignas de campeonato regional de MMA nos Himalaias. Equipamento moderno? Até sim. Uniformes resistentes? Claro. Mas junto com isso, bastões, escudos e, quem diria, uma pegada medieval revisitada. A fronteira não foi desmilitarizada, foi “demodernizada”.

Fora do campo de batalha (ou melhor, dos rochedos), a verdadeira disputa acontece com caminhões, tratores e concreto. Cada país investe pesado em infraestrutura nas áreas contestadas. A China tem a rodovia G219, conectando Xinjiang ao Tibete; a Índia tem a Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie, uma estrada de nome grande e importância maior ainda.
Essas obras são como bandeiras plantadas no terreno ou marca de urina de cães: mostram quem manda (ou quer mandar) em cada pedaço de pedra e gelo. Mas a presença física gera mais encontros, que geram mais tensões, que geram… mais combates com bastões. É a escalada não-escalada.
Os incidentes de 2020-2021 foram o ápice dessa lógica maluca. No Vale de Galwan, as tropas literalmente se estapearam (com técnica, é claro), à beira de um rio glacial, à noite. O saldo: pelo menos 20 soldados indianos mortos, alguns por afogamento e frio. O número de mortos chineses permanece em segredo de Estado. Shhhhhh!
Mas calma lá! Até mesmo para guerras toscas existe um certo ritual. As patrulhas se encontram, trocam farpas (verbais, ainda), constroem tendas ou bandeiras, os ânimos se exaltam, começa a pancadaria… e depois recuam. Há um script informal, uma coreografia de confronto que obedece a regras não escritas, respeitando o tratado de 1996. E depois? Comunicado oficial minimizando tudo, como se fosse só uma divergência de opiniões com hematomas e alguns mortos, com os quais nenhum dos lados se importa.
Enquanto os soldados treinam para enfrentar o inimigo com bastões almofadados, diplomatas treinam para enfrentar o inimigo com mapas empoeirados. O Mecanismo de Consulta e Coordenação é o fórum oficial onde Índia e China tentam resolver suas diferenças. Só que há um detalhe: cada lado acredita em uma cartografia e uma história diferentes.
A Índia puxa argumentos baseados em tratados britânicos; a China prefere olhar para realidades administrativas e controle histórico. Resultado: cada um mostra um mapa e diz “veja aqui a prova”, só que estão jogando tabuleiros diferentes.
O embate sino-indiano é o tipo de paradoxo que faria qualquer estrategista militar coçar a cabeça. São potências com foguetes, mas que brigam com pedaços de pau. É o encontro entre drones e Wushu, entre nacionalismo nuclear e pancadaria ancestral; e essa mistura de herança colonial mal resolvida, soberania nacional inflamada e acordos que dizem “não pode atirar no amiguinho, mas jogá-lo do penhasco tá liberado” produz um tipo de conflito híbrido: moderno nos bastidores, medieval na linha de frente. E, ao que tudo indica, essa fórmula vai continuar por um bom tempo.
Diz a historinha apócrifa que perguntaram a Einstein quais seriam as armas numa eventual 4ª Guerra Mundial, ao que ele respondeu que não sabia, mas que numa 5ª Guerra Mundial seriam clavas e machados de pedra. Acho que chegamos lá rápido.
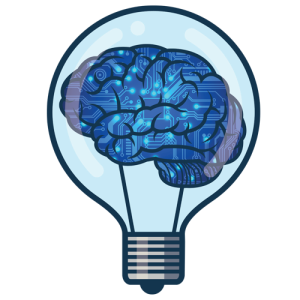
2 comentários em “Novas Guerras, Antigas Armas”