
Era uma vez, crianças, um tempo em que entrar na Internet parecia invadir o quarto bagunçado de um adolescente dos anos 90: fundo estrelado, música MIDI tocando “Für Elise” sem permissão, texto amarelo sobre preto piscando “BEM-VINDO AO MEU SITE!!!” em Comic Sans tamanho 72. Você clicava num link chamado “clique aqui seu trouxa” e caía num labirinto de páginas sobre Pokémon, teorias da conspiração sobre o Tamagotchi e santuários dedicados a artistas que ninguém lembra mais. Ninguém estava ali para vender curso, ganhar patrocínio ou virar meme de 15 segundos. Estavam ali porque podiam. Porque era divertido. Porque a Internet ainda era um playground, não um shopping center com vigilância 24h e psicólogos comportamentais desenhando cada botão para sugar mais 47 segundos da sua atenção.
Esse paraíso caótico tinha um nome: GeoCities. Lançado em 1994, o serviço gratuito de hospedagem abrigava milhões de sites pessoais organizados em “bairros” temáticos: Area51 para ficção científica, SiliconValley para os nerds de plantão. Lá estava tudo: professores com lições de casa online, fãs de bandas obscuras que passavam meses escaneando capas de CD e escrevendo textões sobre como “Infinita Highway” mudou suas vidas, diários pessoais escritos sem medo de cancelamento. Era uma bagunça linda, autêntica, humana demais para os padrões corporativos que viriam depois.
Eu também tinha site lá. Era de divulgação científica. Sim, eu sou o primeiro divulgador científico da Internet BR, com já falei várias vezes. E irei reforçar isso sempre que puder!
Em 2009 (nessa época, eu já tinha o blog no sistema WordPress há 3 anos!), o Yahoo resolveu que aquilo já tinha cumprido seu papel de enfeitar a juventude da internet e desligou os servidores. Pronto. Milhões de sites simplesmente evaporaram, levando consigo uma era inteira de criatividade não-monetizada. Alguns foram preservados no GeoCities Gallery como múmias digitais em vitrines de museu, eternamente congelados com seus links quebrados e imagens sumidas, mas ainda exibindo aquele design que hoje nos faz questionar se aquelas pessoas tinham alguma noção de teoria das cores ou simplesmente não ligavam mesmo. (Spoiler: era a segunda opção, e era glorioso assim.)
Mas vamos ser honestos: o GeoCities já estava ferido de morte bem antes de 2009. O Google tinha começado o massacre anos antes com seu PageRank, aquela métrica supostamente democrática que prometia ranquear sites pela relevância mas que, na prática, virou um leilão disfarçado. Quem pagava mais no AdWords aparecia primeiro, simples assim. De repente, aquele site feito com amor pelo entusiasta de Porto Alegre que catalogou toda a discografia do Engenheiros do Hawaii ficava enterrado na página 47 dos resultados, enquanto no topo aparecia um agregador genérico cheio de banner piscando e zero alma.
O conhecimento genuíno perdeu para a importância fictícia comprada com cartão de crédito. A internet deixou de ser sobre o que você tinha a dizer e virou sobre quanto você podia pagar para ser ouvido.
E quando você achava que não podia piorar, o Google lançou a monetização do YouTube em 2007. Pronto, cavou-se a cova definitiva! O que antes era gente compartilhando vídeos porque tinha algo interessante a mostrar virou uma corrida desesperada por views, likes e aqueles míseros centavos do AdSense. Criadores viraram reféns do algoritmo, obrigados a esticar vídeos de 3 minutos para 10 minutos e 2 segundos (porque aí rolam mais ads), a gritar “NÃO ESQUECE DE DAR LIKE E SE INSCREVER” como mantra hipnótico, a colocar thumbnails cada vez mais chocantes com expressões faciais que parecem reações a desastres nucleares. Conteúdo virou pseudoproduto (o produto, mesmo, é você). Conhecimento virou chamariz. E o público? Ah, o público foi sufocado com tantas propagandas que assistir um vídeo de 5 minutos sobre como trocar a pilha de um controle remoto virou uma maratona de paciência: propaganda antes de começar, propaganda no meio, propaganda no final, e se der azar, propaganda sobreposta no próprio vídeo. Tudo em nome da monetização, nada em nome do conhecimento.
Enquanto o GeoCities morria e o Google transformava a web num mercado, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok nasciam. De repente, todo mundo virou marca pessoal. O algoritmo virou o novo deus ex-machina: se você não gera engajamento em 0,8 segundo, morre de inanição digital. Se você não postar trocentos vídeos por semana, é varrido pra longe como folhas secas a ventania. Resultado? Uma avalanche de vídeos de gente chorando com filtro de cachorrinho, hot-takes sobre política feitos por quem leu só o título da notícia, dancinhas idênticas coreografadas por um robô com crise existencial. Tudo regado a ragebait, aquela isca de raiva calculada para você comentar “isso é um absurdo” e o dono do perfil ganhar mais três reais de AdSense. E funciona, porque despertar ódio funciona, já que mexe com a arrogância das pessoas.
E quando você achava que tinha chegado no fundo do poço, a inteligência artificial entrou na festa. TikTok, Instagram e Twitter (sim, o X também, mas não vou legitimar esse nome ridículo) seguiram alegremente pelo mesmo caminho pavimentado pelo Google: monetizar tudo, qualidade que se dane. A IA começou a produzir conteúdo em escala industrial: textos, imagens, vídeos, tudo fabricado em segundos por algoritmos que escrevem com a profundidade emocional de um manual de micro-ondas traduzido do chinês por outro robô.
Threads inteiros no Twitter gerados por bots, reels no Instagram com “dicas de produtividade” copiadas e refritas mil vezes, vídeos no TikTok com narração robotizada sobre “fatos incríveis” que não têm uma única fonte confiável. É conteúdo? Tecnicamente sim. É útil? Só se você considerar poluição visual e mental algo útil. O conhecimento de verdade virou artigo de luxo escondido atrás de paywalls, agregadores cheios de pop-up e o risco constante de levar block por ter opinado errado sobre música de 1973… isso quando você consegue distinguir o que foi escrito por humano do que foi vomitado por IA.
Mas nem todo mundo embarcou nessa. Em 2013, o desenvolvedor Kyle Drake – que curiosamente também trabalhou na preservação do GeoCities Gallery, tipo um arqueólogo digital resgatando múmias – lançou o Neocities. A proposta era simples e revolucionária: ressuscitar o velho serviço de hospedagem gratuita onde qualquer um poderia criar um site em HTML puro, subindo seus próprios arquivos ou usando o editor no navegador. Nada de templates bonitinhos, nada de SEO, nada de “maximize seu alcance orgânico”. Só você, seu código e a liberdade de colocar um gatinho animado dançando ao som de “Sandstorm” se der na telha.
Mais de uma década depois, o Neocities virou o epicentro do que hoje chamam de ”Web Indie”, um movimento que resgata aquela época em que sites não precisavam estar perfeitos, nem sequer terminados, e as comunidades se formavam por afinidade humana real, não por sugestões algorítmicas. A coisa ganhou força nos últimos anos como resposta direta à invasão da Inteligência Artificial, ao doomscrolling compulsivo e à monetização desenfreada de cada pixel das redes sociais. Em 2024, surgiu também o Nekoweb, atraindo refugiados digitais preocupados com privacidade e IA. Juntas, essas plataformas formam o coração de um movimento onde as regras são simples: zero algoritmo, zero monetização, zero medo de ser cancelado.
Por enquanto… sou obrigado a colocar este adendo, infelizmente. Por enquanto, mas é o que se tem pra hoje!
De qualquer forma, aqui mora uma ironia deliciosa: quem está migrando em massa para esses cantinhos são os jovens. Isso mesmo, a Geração Z – aquela que acha que o Universo começou com a invenção do iPhone – está cansada do feed perfeito. Eles querem o caos. Querem fundo tie-dye, fonte pixelada, guestbook para deixar recado, webring que te leva de um site sobre Sailor Moon para outro sobre como construir um PC com peças de sucata. É como se, depois de anos comendo só comida de Instagram (tudo lindo, tudo sem gosto), eles tivessem descoberto o miojo com ovo da avó e pensado “caralho, isso aqui tem alma”. Gente que nunca viu o GeoCities original está recriando sua essência como quem resgata um disco de vinil do sótão dos avós.
Ou, pelo menos, é isso que o Verge diz. Eu tenho um… Ceticismo quanto a isso. Mas é bom novos ares, novas experiências. O resultado visual é uma linda dor de cabeça: webrings anti-IA, sites pessoais com estética noventista mas temáticos sobre planejadores Hobonichi Techo, recriações interativas do Windows 98 funcionando no navegador, festival de GIFs pixelados, fundos psicodélicos, layouts animados que induzem enjoo (no melhor sentido possível). Há até santuários dedicados a eras específicas da Internet, como o Frutiger Aero Archive. É uma ode à linguagem visual do início dos anos 2000, aquela época de gradientes azuis e ícones translúcidos que Apple e Microsoft achavam o máximo. A diferença entre a web indie e as redes sociais contemporâneas é a mesma que existe entre uma loja de antiguidades caótica e uma Apple Store: uma tem personalidade demais, a outra esterilidade calculada demais.
E por falar em IA, a comunidade Indie Web trata o assunto com a sutileza de quem espanta baratas da cozinha. Quando o Neocities testou um assistente de IA chamado “Penelope” no editor de código, os usuários criaram uma petição formal exigindo sua remoção imediata. O episódio foi tão traumático que parte da galera migrou para o Nekoweb, que promete bloquear rastreadores e scrapers de IA como se fossem vampiros digitais. Enquanto o resto da internet se afoga em texto gerado por robô (aquele tom falsamente empático que parece escrito por um estagiário dopado de Red Bull), esses sites colocam placas bem grandes: “NO AI ALLOWED”. Tem até quem defenda que “codar é arte, não colar do ChatGPT”. É quase comovente ver uma galera de 19 anos defendendo a autoria como se fosse o vinil contra o CD.
Mas não é só estética retrô e paranoia com IA. A web indie ressuscitou práticas comunitárias esquecidas: webrings, “web gardens” (ícones de 250×250 pixels que funcionam como cartões de visita visuais), seções de “vizinhos” lembrando os velhos bairros do GeoCities. É a internet antes do LinkedIn transformar networking em performance corporativa obrigatória, antes de cada interação virar métrica de engajamento.
Certos grupos estão migrando com mais intensidade, especialmente artistas e a comunidade LGBT(sopa-de-letras). A avalanche de conteúdo gerado por IA tornou quase impossível para artistas serem notados nas redes sociais; seu trabalho pode alimentar modelos de IA sem consentimento. Enquanto isso, mudanças nas políticas de moderação tornaram plataformas mais hostis: logo após Elon Musk comprar o Twitter, a rede removeu a política que proibia o deadnaming intencional de pessoas trans. Diante desse cenário, não surpreende que comunidades marginalizadas busquem refúgio num espaço descentralizado onde ninguém pode simplesmente apertar um botão e apagar sua existência digital.
O que mais impressiona é como a Web Indie se sente. Navegando pelo Neocities e Nekoweb, descendo a toca do coelho dos webrings, você experimenta algo que não associa à Internet desde os tempos de escola: curiosidade genuína. Não aquela curiosidade fabricada pelo algoritmo do TikTok que te mantém grudado na tela tipo viciado em caça-níqueis, mas aquela curiosidade sincera de querer descobrir o que a próxima página vai revelar, que design maluco vai aparecer, que música funky vai começar a tocar. Ler entradas de diário pessoal nesses sites é conhecer pessoas de verdade, não consumir versões marketizadas otimizadas para conseguir seguidores.
A web indie até recuperou aquele friozinho na barriga de que você pode tropeçar em algo creepy ou “perigoso”, como aqueles sites bizarros da Internet do Velho testamento que te faziam pensar duas vezes antes de clicar. Quando uma página grita “Clique aqui para entrar!”, você hesita. Mas se decidir não clicar, não surge um pop-up desesperado implorando que você fique. As páginas simplesmente existem, pedindo nada em troca dos visitantes além, talvez, de uma assinatura no livro de visitas. Sem scroll infinito, sem SEO, muitas sem nem versão mobile. Quantos de nós se lembram da última vez que a internet não exigiu nada em troca?
Claro, não é perfeito. Ainda tem site que trava o navegador inteiro com 47 GIFs de fogo girando, e a moderação é zero. De vez em quando você cai numa página problemática. Mas, olha, pelo menos é humano. Pelo menos é real. Pelo menos ninguém está ali para vender nada além de si mesmo, com todas as imperfeições, delírios e paixões desmedidas que isso implica. Se algo viola a Lei, simplesmente se denuncia para a polícia e ela que investigue. Sem cancelamentos ou bullying virtual.
E o que vem pela frente? Se as redes sociais continuarem se deteriorando (com mais censura, mais restrições de idade, mais IA gerando lixo em escala industrial), não seria surpresa ver mais gente migrando. Como o vinil, provavelmente nunca voltará ao auge dos tempos pré-Yahoo, mas haverá sempre um grupo consistente buscando esse canto da internet para escapar da modernidade algorítmica. O fim do Twitter como hub social padrão pode ter acelerado essa fragmentação digital que, ironicamente, facilita a adaptação ao mundo sem algoritmos. E enquanto a IA desencorajar pessoas de aprenderem programação, a web indie manterá acesa a chama para quem ainda quer aprender HTML, CSS e JavaScript não para arrumar emprego, mas para criar algo verdadeiramente seu.
A Indie Web não vai salvar a Internet. Não vai derrubar o TikTok nem fazer o Elon Musk devolver o Twitter para os passarinhos; mas nem deve fazer isso. Ela é um lembrete gostoso de que, em algum lugar, ainda existe um canto onde a gente pode ser ridículo sem plateia, compartilhar conhecimento sem medo de virar alvo, e fazer arte só porque sim. É como encontrar uma fita VHS perdida do Sítio do Picapau Amarelo no meio do streaming: não é prático, não é em 4K, mas tem cheiro de infância, de tempo em que a gente criava em vez de consumir.
No fundo, a web indie é a prova viva de que às vezes o progresso tecnológico não é linear. Às vezes precisamos dar alguns passos para trás para lembrar o que perdemos no caminho: autenticidade, comunidade real, a liberdade de criar algo feio e quebrado simplesmente porque queremos. A internet costumava ser um lugar onde pessoas compartilhavam conhecimento pelo prazer de compartilhar, onde você lia o que outros tinham a dizer porque estava genuinamente curioso, não porque um algoritmo decidiu que aquilo ia te manter scrolling por mais 47 segundos.
Então, um brinde aos corajosos que ainda colocam “under construction” no site em 2025. Que os GIFs de fada continuem piscando, que os contadores de visitas nunca cheguem a um milhão, e que a internet, pelo menos num cantinho escondido, continue maravilhosamente feia. Talvez o GeoCities tenha morrido em 2009, mas seu espírito finalmente voltou. E está mais vivo, pixelado e gloriosamente disfuncional do que nunca. Porque, vamos combinar: feio com personalidade sempre vai ganhar de bonito sem alma.
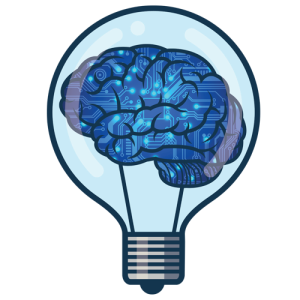
2 comentários em “Quando a Internet era feia, quebrada e honesta (e a gente amava assim mesmo)”