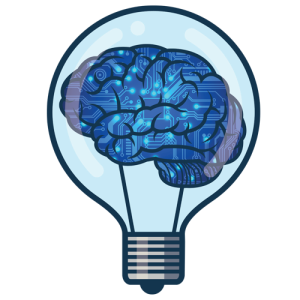A cena é um jantar de família. O menino olha desanimado para o prato e reclama:
A cena é um jantar de família. O menino olha desanimado para o prato e reclama:
– Mamãe, eu não gosto do meu irmãozinho.
– Tá bom, filhinho. Então come só as batatinhas.
Eu sei que é um truque barato começar uma coluna com essa piada jurássica. Mas, se você já deu pelo menos uma risadinha ao ouvi-la, então sacou o que a faz engraçada e ao menos ligeiramente subversiva. Afinal, pessoas que fazem jus ao nome de gente não se sentam à mesa para comer carne humana, muito menos transformam um dos próprios filhos em filé mignon. O absurdo da situação é óbvio. Certo? Hein?
Aqui, como em tantas outras situações, lamento informar que é preciso relativizar o absurdo. Debaixo do verniz espesso dos tabus e das regras sociais, responsáveis por praticamente eliminar a antropofagia (a versão especificamente humana do canibalismo) no Ocidente, há indícios perturbadores de que a prática foi um elemento constante no nosso passado evolutivo.
É possível até argumentar que fez (faz?) parte da natureza humana comer carne de gente, e que a nossa própria transformação em criaturas inteligentes e socialmente complexas nos deu mais (e não menos!) motivos para ingerir o próximo. Para alguns pesquisadores, a cicatriz desse pecado original estaria no nosso próprio DNA. Se você duvida, sugiro fortemente que acompanhe os próximos parágrafos, destemido leitor.
Como em qualquer bom inquérito criminal, vale a pena avaliar primeiro os antecedentes do suspeito. Aliás, os da família do suspeito: o método comparativo costuma ser uma mão na roda para os estudos evolutivos, e avaliar o que acontece entre outras espécies sempre dá pistas sobre a origem de traços humanos. E, nessa questão específica, não é preciso escarafunchar muito para perceber que comer companheiro de espécie é uma prática muitíssimo comum entre vertebrados de todos os tipos e tamanhos.
Quem é dono de aquário e conhece os famosos lebistes, peixinhos vivíparos de belos rabos coloridos, provavelmente já presenciou cenas de canibalismo explícito. Uma fêmea que esteja prestes a dar à luz num aquário lotado freqüentemente se vê às voltas com vários outros lebistes de boca aberta no seu traseiro, só esperando os alevinos saírem para abocanhá-los. Coisas parecidas dão as caras entre anfíbios, répteis, aves e mamíferos: não é raro que um leão macho coma filhotes cujo pai é outro leão concorrente, e os chimpanzés, os primos mais próximos do homem moderno entre as espécies vivas hoje, também podem adotar a prática.
Vamos deixar de lado por um momento as alegações de que uma espécie só envereda por esse caminho por razões patológicas (uma leoa com “depressão pós-parto” que engolindo os bebês) ou por fome extrema. Não parece ser o caso, uma vez que a competição acirrada entre indivíduos ou grupos muitas vezes é o fator preponderante para desencadear o comportamento canibal. Mas agora é mais interessante nos voltarmos para a nossa própria linhagem. Noves fora as histórias aterrorizantes da Era dos Descobrimentos, quão antigas são as evidências de antropofagia?
A resposta é simples: muito antigas. Os antropólogos já desenvolveram uma série de critérios bastante bons para provar a ocorrência de canibalismo. Como muitas culturas do passado e do presente praticam sepultamento secundário, no qual o corpo do morto pode ser retalhado ou até ter a carne totalmente arrancada dos ossos antes do enterro, a mera presença de cadáveres desarticulados não é suficiente. A regra principal é tentar ver se o corpo humano foi tratado da mesma maneira que os restos de animais presentes no local. Ou seja, verificar se ele recebeu tratamento de açougueiro.
Alguns desses sinais são a presença de marcas de corte nos ossos que possuem mais carne disponível; indícios de que o fêmur ou os componentes ósseos dos braços foram esmigalhados para a extração do tutano, muito nutritivo; a falta das extremidades esponjosas dos ossos, também gordurosas e apreciadas; e o esfacelamento do crânio para a extração dos miolos.
Sem entrar em mais detalhes mórbidos, basta dizer que cavernas habitadas pelo Homo erectus na China de 500 mil anos atrás, bem como abrigos rochosos da Europa onde os neandertais viveram há dezenas de milhares de anos, trazem precisamente esses indícios comprometedores. Alguém poderia argumentar, porém, que esses sujeitos podiam ser parecidos conosco, mas eram menos que humanos. Ademais, podem muito bem ter comido outros hominídeos por necessidade, já que a vida de caçador-coletor sempre está sujeita à fome.
Esses argumentos só são bons na aparência. O fato é que o Homo sapiens moderno praticou o canibalismo em inúmeras circunstâncias, muito bem documentadas. Os fazendeiros do Neolítico europeu, os indígenas brasileiros, mexicanos e americanos, tribos africanas, aborígines da Austrália e papuas da Nova Guiné, polinésios e maoris: a lista de antropófagos dá até canseira.
O curioso aqui é que o homem moderno parece ter dividido a antropofagia socialmente aceita em duas grandes categorias, o endocanibalismo e o exocanibalismo. A segunda versão é a celebrizada pelo militar e cronista alemão Hans Staden, que escapou por muito pouco de virar janta do chefe tupinambá Cunhambebe no Brasil do século 16. Os tupinambás e os maoris da Polinésia praticavam o exocanibalismo ao capturar membros de outras tribos (inclusive da tribo cristã européia) e ingeri-los em grandes festins rituais. A função social da prática era múltipla: valia como forma de absorver miticamente a coragem e a força do inimigo morto e também de celebrar o ódio contra o grupo derrotado.
Já o endocanibalismo é algo muito mais paradoxal e, se me vocês me permitem usar a palavra, gentil. Consiste em comer os mortos do próprio grupo social a que se pertence, muitas vezes um parente próximo e querido. A prática, presente entre povos como os waris da Amazônia brasileira ou várias tribos da Nova Guiné, pode funcionar como um verdadeiro ritual de união: a pessoa querida morre, mas continua literalmente a viver no corpo dos seus companheiros de grupo.
Ora, existe uma semelhante intrigante entre as duas variedades canibais, e não é só o fato de ambas envolverem o consumo de carne humana. Eu explico: elas são práticas simbólicas. Para que uma espécie pratique o canibalismo com motivações como as citadas acima, e não simplesmente por estar com fome, é preciso que seu cérebro seja capaz de conceber um universo de símbolos nos quais o consumo físico de carne seja equivalente à aquisição da “essência” do morto, do que era único dele como indivíduo. E Você-Sabe-Quem (como diria J.K. Rowling) é a única espécie do planeta com essa capacidade. Isso mesmo: nós.
A maioria dos antropólogos acredita que a nossa transição mental para o universo simbólico só aconteceu com o aparecimento dos chamados humanos comportamentalmente modernos, há no máximo 100 mil anos. Assim, por incrível que pareça, o aparecimento de pessoas cuja cabeça funcionava como a nossa pode ter aumentado as oportunidades para a prática do canibalismo, e não as diminuído, como o nosso orgulho civilizado desejaria imaginar.
Esse raciocínio tem um pós-escrito no mínimo assustador. Entre os forés, uma tribo de Papua-Nova Guiné que tinha o hábito de comer seus próprios mortos, foi detectada uma estranha e letal doença neurológica chamada kuru, que abre rombos nos neurônios. Descobriu-se que ela era transmitida pela versão malformada de uma proteína cerebral, o príon, exatamente como o mal da vaca louca.
O que estava acontecendo é que o consumo dos miolos dos forés mortos, portadores do príon malformado, estava contaminando os vivos e dizimando a população da tribo. Uma equipe de pesquisadores do Imperial College de Londres examinou o DNA dos forés e descobriu que 55% deles possuem a variante de um gene que confere proteção contra o príon alterado. Era como se a seleção natural entre esse povo antropófago tivesse deixado sua marca: como os que comiam seus parentes e pegavam a doença morriam, o gene protetor foi se tornando cada vez mais comum.
Até aí, tudo bem. O problema é que os pesquisadores londrinos descobriram que a mesma variante protetora também aparece entre 48% dos turcos, 38% dos franceses e 32% dos jamaicanos. Para se tornar um problema sério, do tipo que mobiliza a seleção natural, o príon provavelmente teria de ser passado pelo consumo de membros da própria espécie. Foi assim que o mal da vaca louca virou epidemia: os fazendeiros europeus davam restos moídos de gado para seus animais comerem.
O dado ainda é tênue para qualquer afirmação definitiva, mas ele é coerente com a hipótese de que, no passado remoto, vastas parcelas da humanidade foram antropófagas. Por via das dúvidas, que esse gene sirva de lembrete a respeito do tipo de coisa na qual podemos nos transformar, dependendo da ocasião – e do que tem na mesa para jantar.
Fonte: G1